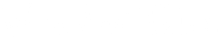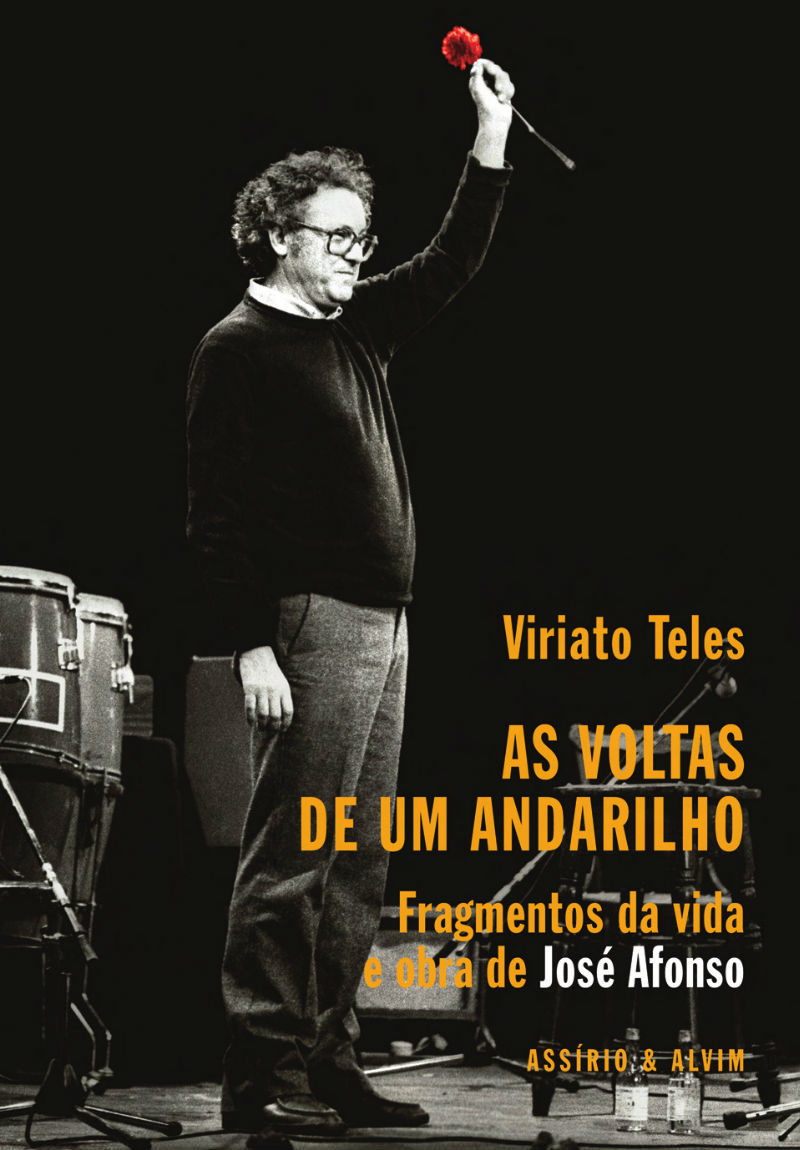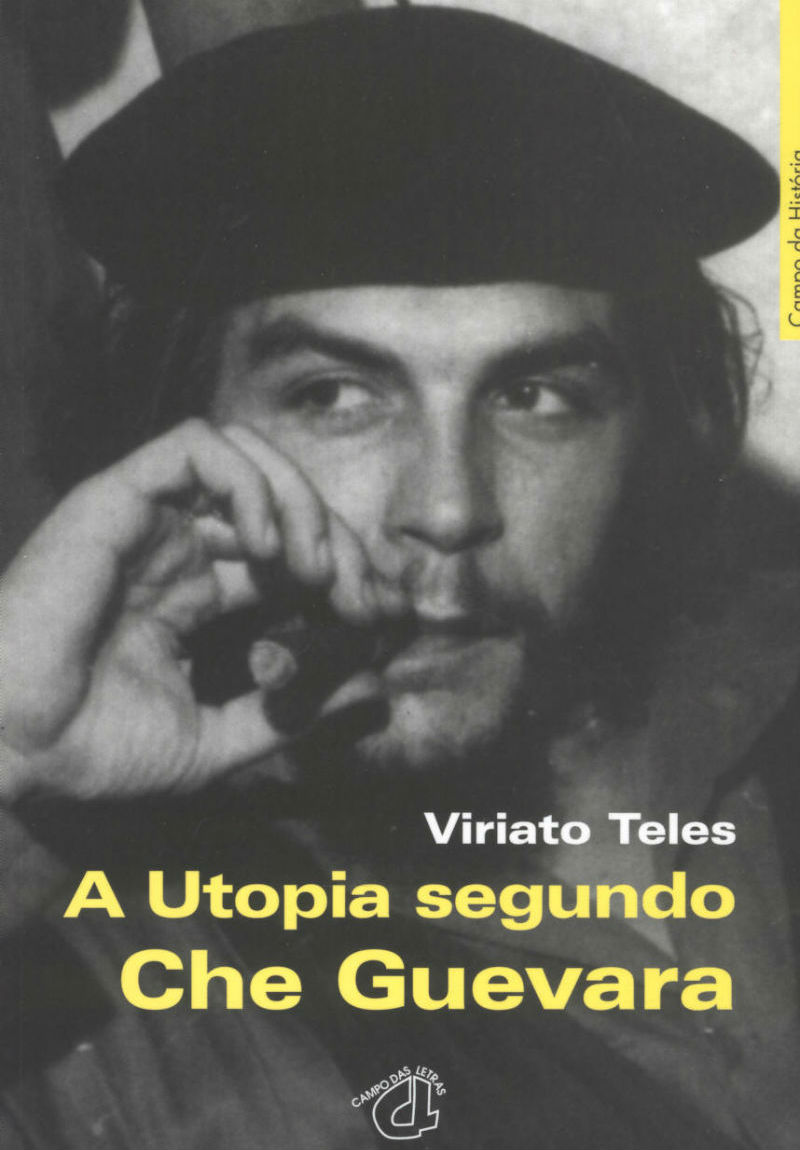«Onde é que você estava no 25 de Abril?» Aqui há uns anos, mestre Armando Baptista-Bastos inquietou meio mundo com esta pergunta, a partir de uma série de «conversas secretas» que manteve a desoras na SIC. Ainda hoje ele garante que só a colocou quatro ou cinco vezes a outros tantos entrevistados, mas o certo é que a expressão pegou, e até foi mote para uma rábula de Herman José em vários programas de televisão. E, fosse ou não porque o humor amplifica a dimensão das coisas, o certo é que a questão adquiriu um curioso sentido sociológico – onde estava, com quem estava, como estava – que ultrapassou largamente as intenções originais do entrevistador. Uma prova clara de que as palavras, como todas as coisas, têm vida própria.
Aos cidadãos convidados para este livro não foi perguntado onde estavam no dia 25 de Abril de 1974. É do domínio público que todos eles estavam onde deviam estar e faziam o que podiam para pôr fim à ditadura que dominava o país há quase cinco décadas. Todos participaram da festa, onde quer que estivessem. Acreditaram que algo estava a mudar, e algo efectivamente mudou. E estes homens e mulheres foram, cada um a seu jeito, obreiros empenhados dessa mudança. Ao tempo, tinham em comum os mesmos objectivos básicos: derrubar o fascismo, construir a liberdade. Mas, inevitavelmente, mal esse objectivo se cumpriu, deu-se a separação, e cada um procurou fazer o seu caminho, de acordo com aquilo em que acreditava e que desejava.
No Verão Quente de 1975 alguns deles estiveram em trincheiras opostas. E em Novembro, quando a euforia revolucionária deu lugar à normalidade democrática, uns posicionaram-se do lado dos vencedores, outros sentiram-se vencidos, outros ainda dispuseram-se a aguardar para ver. Foi o tempo em que, de uma maneira ou de outra, todos percebemos aquilo que mais tarde Júlio Pinto enunciaria de modo axiomático: que a revolução está para a democracia assim como a paixão está para o casamento. A maior parte de nós casou, alguns até por mais de uma vez. E a brasa revolucionária extinguiu-se, como sucede tantas vezes ao fogo da paixão.
Nos anos seguintes, e cumprindo o seu destino, entre maiores ou menores sobressaltos a democracia estabilizou. O Portugal moderno é membro da União Europeia, tem acesso a mais de cinquenta canais de Televisão, lojas McDonalds, roupas da Zara, um centro comercial em cada esquina, mil quilómetros de auto-estradas, mais de um telemóvel por habitante. É, garantem-nos, um país tão civilizado como os mais civilizados – tanto que até trocou os velhos escudos pelos modernos euros, pelo menos na aparência. Mas continua a ter de viajar até ao estrangeiro para perceber quanto lhe falta para ser realmente um país europeu.
E, a bem dizer, falta-lhe quase tudo, e principalmente os tais euros que diziam ser milagrosos – e que, bem vistas as coisas, talvez até sejam: afinal, é sabido que eles existem e que entram no país, seja vestidos de pedip, pidac, prozac ou fundo estrutural; mas logo de seguida adquirem inexplicavelmente o dom da invisibilidade, e nunca mais ninguém os vê. Um amigo meu diz que são os mistérios insondáveis da Democracia, a mim parece-me que anda por aí mãozinha matreira, mas enfim, quem sou eu para me queixar? Não, de mim não ouvireis dizer que isto está pior que dantes. O país está em crise, eu sei, o custo de vida aumenta, o povo não aguenta, e tal. Pois sim. A verdade é que nem o cinzentismo a que chegámos me faz desejar a negritude do Antigamente, mesmo se – Deus nos perdoe! – chegamos hoje por vezes ao ponto de invocar a honestidade rural de António Salazar contra a falta de vergonha de tantos dirigentes de serviço.
Mas a verdade é que, chegados a meio da primeira década do século XXI e passados trinta anos sobre o período revolucionário de 1974-1975, é difícil a qualquer pessoa de bem acreditar que o Portugal de hoje seja o país que se desejou nesses dias. Ou mesmo parecido. Para uns, antes assim. Para outros, foi uma pena. Ou então foi o que tinha de ser, paciência, é a vida. Talvez por isso faça sentido perguntar onde está o 25 de Abril, por onde andam os seus vestígios, que é feito das suas promessas e ilusões? E o que se passou de então para cá fez de nós pessoas mais felizes? Esta questão central foi o ponto de partida para estas conversas e para a escolha destes interlocutores: a opção pelos diferentes registos é deliberada, já que me pareceu saudável abordar o tema em perspectivas distintas, ainda que não necessariamente opostas.
Não sou um nostálgico da Revolução, como não sou daqueles que acham que tudo o que se ganhou em Abril se perdeu em Novembro. Também nem sempre pensei como hoje penso, e não me lamento por isso: acredito que a evolução das ideias deve acompanhar o crescimento humano – e este, já se sabe, só termina quando morremos. Mas também não sou dos que acham que de deve abdicar por completo dos sonhos em nome da realpolitik, ou dos que se envergonham de um dia terem acreditado que é possível um mundo melhor. Não me sinto órfão de Abril nem deserdado de Novembro, quanto mais não seja porque nasci em Março e fui pai em Junho. Mas também acredito na força da memória como elemento de preservação da consciência colectiva, e por isso julgo ser minha obrigação dar o meu contributo nesse sentido, prestando contas do que vi.
Desde já confesso: sou culpado. Culpado de ter vivido intensamente o 25 de Abril e os dias levantados que se seguiram. Estava em Ílhavo, quando tudo começou, mas ninguém é perfeito. Era jovem e pensava. Éramos imortais, e não queríamos perder tempo. Queríamos o mundo, e tínhamos o mundo. Em ano e meio, fizemos de um país tristonho uma pátria onde valia a pena sonhar. E sonhámos, e vivemos horas que ninguém nos tira. Depois, a vida real impôs-se e mostrou-nos que há um preço para tudo, até para os sonhos. Pagámos por isso, e muitos de nós continuam a pagar. E, afinal, qual é o preço da nossa culpa? Quisemos ser felizes. E isso é crime?
O que aconteceu depois na vida nacional, sobretudo na última dúzia de anos, elevou os autóctones a um estranho estado de letargia impotente, difícil de descodificar, mas a que não é alheia a ofensiva dos exércitos de estupidificação maciça que tomaram de assalto os media um pouco por todo o mundo. Portugal, que é pequenino mas aprende depressa, não foge à regra e em poucos anos a tolice tornou-se um hábito também entre nós – e o que é pior: um hábito incentivado e praticado reiteradamente por vários dos mais influentes agentes políticos, culturais e sociais.
Parafraseando Mário Sacramento, apetece-me dizer que não vivemos o que quisemos, mas quisemos o que vivemos. Em todos os sentidos que queiram dar a isto a que chamamos a vida. E é à vida (ou deverei dizer às vidas?) que aqui se deitam contas. Não para ajuste das ditas, que não é o momento nem o lugar; apenas para que cada um de nós possa talvez reencontrar-se naquilo que houve de mais fundamental ao longo do tempo já vivido. Por aqui passam encantos, desencantos, humores diversos, provocações e indignações, convicções, incertezas, risos e raivas, de muitos matizes e distintas formas. E também diferentes formas de olhar o mundo, vivências distintas. Ao autor, participante activo nas conversas e nas memórias, não cabe fazer julgamentos nem tirar conclusões.
Alberto Pimenta, Alice Vieira, António Pinho Vargas, Baptista-Bastos, Edmundo Pedro, Fausto Bordalo Dias, Fernando Relvas, Francisco Louçã, Isabel do Carmo, João Soares, José Mário Branco, José Medeiros, Luís Filipe Costa, Maria Teresa Horta, Manuel Freire, Mário Alberto, padre Mário de Oliveira, Odete Santos, Otelo Saraiva de Carvalho, Vasco Gonçalves. Foram estes os entrevistados, e estiveram para ser mais, mas não sei se poderiam ser outros. Explicando melhor: existem, naturalmente, muitos mais do que os cidadãos cujos testemunhos aqui se reúnem com coisas para dizer e histórias para contar sobre a já trintona Revolução dos Cravos e aquilo que se seguiu; e, para este projecto, além dos presentes, terei contactado mais uma dúzia deles, tão interessantes e tão importantes quanto estes, e quase todos estavam disponíveis para conversar. A esses também devo uma palavra de agradecimento, e talvez até um pedido de desculpas, mas entenderão que entrevistá-los a todos daria a este livro uma dimensão incomportável. Os vinte que aqui juntei são inquestionável e reconhecidamente dos mais dignos praticantes dos ofícios a que cada um se entregou. Vários deles são também, para além disso, meus amigos, mas não foi esse o critério maior que me levou a convidá-los para a conversa: foi mesmo porque sabem do que falam, e falam sem medo – o que só aparentemente é coisa de somenos.
Falo em conversas, mais do que em entrevistas, porque assim o foram a maioria dos diálogos que estão neste livro. Foram tardes e noites de cavaqueira, em alguns casos frente ao computador – que, por exemplo, foi o veículo para a comunicação com Fernando Relvas, a viver na Croácia, e com o padre Mário de Oliveira, baseado em Macieira da Lixa – muitos telefonemas, uma quantidade não despicienda de almoços, jantares, cafés e bebidas avulsas. Mas não vos passe pela cabeça que, alguma vez, estas horas foram tempo perdido. Apesar das insónias e dos desalentos que por vezes assomavam à minha mesa de trabalho, todo este intercâmbio palavral me ajudou a entender melhor a revolução que vivi, a festa que partilhámos.
O 25 de Abril foi um acontecimento marcante para todos os que o viveram, e particularmente para os da minha geração, que despertavam nessa altura para a realidade – e não era bonito de ver aquilo que nos rodeava: um país triste e atrasado, uma guerra longínqua que parecia nunca mais acabar, o medo que se sentia por todo o lado. Muitos já se terão esquecido, mas depois desse «dia inicial inteiro e limpo» de que falava Sophia vivemos a mais exaltante das experiências: criar um país livre. No entanto, como facilmente se percebe, também não houve um critério geracional na escolha dos entrevistados – até porque sou dos que continuam a acreditar que o mundo não se divide por gerações, mas sim por classes, como ensinava o velho Karl Heinrich. Em rigor, o critério foi apenas o de ouvir opiniões distintas de diferentes cidadãos que todos conhecemos de várias lutas e que, cada um à sua maneira, contribuíram para o sonho colectivo que se viveu nos dezoito meses que durou o processo revolucionário em curso.
A propósito, não resisto a sublinhar este dado: é que a Revolução dos Cravos durou um ano e meio, contra um mês que foi o tempo do Maio de 68, as escassas semanas da Primavera de Praga, ou os dias indefinidos que os espanhóis viveram na agonia franquista. Ou seja: pelo menos a fazer revoluções fomos um exemplo para o mundo! Um mau exemplo, dirão alguns, mas não o creio. Basta visitar algumas cidades, na Europa ou na América Latina, e puxar o tema à conversa, para ver como o processo revolucionário português teve reflexos – algumas vezes determinantes, como aconteceu em Espanha – na vida do mundo. Não tanto o 25 de Abril (uma data comum aos italianos, que celebram nesse dia a queda de Mussolini, em 1945), mas antes a Revolução dos Cravos – como é conhecido, fora de portas, o movimento popular que se desenvolveu em Portugal entre 1974 e 1975. Uma designação justa, convenhamos. Afinal, poucos lugares do mundo podem orgulhar-se de ter vivido um dia em que as flores se sobrepuseram à lógica dos canhões – mesmo se, hoje sabemo-lo, a força real das armas não fosse tão grande quanto a força real das almas.
Por mera coincidência, este livro surge a público na ressaca de um dos mais delirantes períodos de vida do regime democrático: no curto espaço de um ano, um primeiro-ministro abandonou o governo a troco de uma cinzenta mas muito bem remunerada presidência do Conselho da Europa, e deixou o país entregue ao amigo que estava à mão. O qual, por sua vez, abandonou a Câmara de Lisboa a meio do mandato, tal como já fizera noutros tempos e noutros lugares, para dirigir o mais inculto e desvairado dos governos que nos foi dado ter depois do 25 de Abril, e o primeiro a ser demitido por manifesta e indisfarçável incompetência. Como diria o Fernando Assis Pacheco, «o país mete dó, merdalhem-se uns aos outros».
Como era inevitável, o traseiro de Pedro Santana Lopes foi substituído no cadeirão do poder pelas nádegas do engenheiro José Sócrates. Tendo em conta que o desgoverno da nação já estava a tornar-se um caso de saúde pública, foi sobretudo um voto terapêutico. O que é uma das vantagens da democracia, claro. Mas isto, só por si, não me anima por aí além. Porque do que eu gostava mesmo era que, de repente, tão de repente como tudo pareceu acontecer naquele Abril longínquo, este livro perdesse toda, mas mesmo toda, a razão de ser. Que, de uma vez por todas, Portugal deixasse de ser um país tristonho e percebesse que há outra vida que vale a pena viver para além da vida real dos hipermercados, das sms e das telenovelas de aquém e de além-mar. E que, também de uma vez por todas, a dignidade humana deixasse de ser um privilégio para passar a ser um direito universal, e portanto não sujeita às leis da competitividade – que, como bem aprendemos nos últimos anos, não só não rima com liberdade como dá cabo da língua.